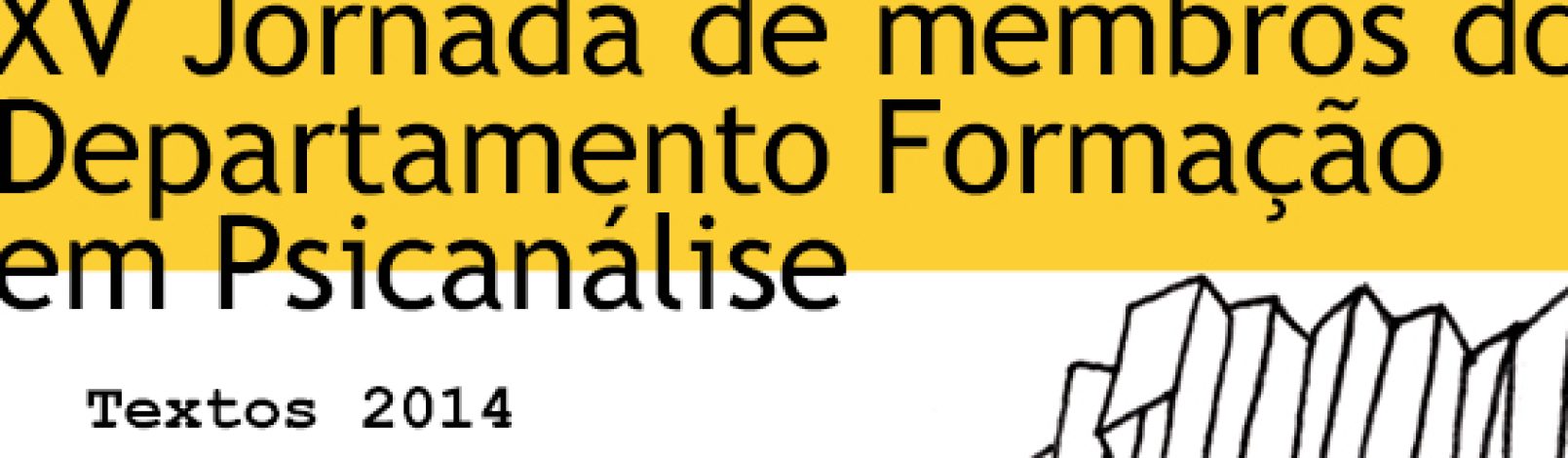INTERFACE ENTRE A SEGUNDA TEORIA PULSIONAL DE FREUD E O FILME “MELANCOLIA”
“Com o suor de teu rosto comerás teu pão até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó e ao pó tornarás”. – Gênesis 3,19
O pulso ainda pulsa
O pulso ainda pulsa…
Reumatismo, raquitismo
Cistite, disritmia
Hérnia, pediculose
Tétano, hipocrisia
Brucelose, febre tifóide
Arteriosclerose, miopia
Catapora, culpa, cárie
Cãibra, lepra, afasia…
O pulso ainda pulsa
E o corpo ainda é pouco
O pulso ainda pulsa…
Arnaldo Antunes
O presente trabalho objetiva realizar breve interface entre o filme Melancolia (2011) do diretor Lars Von Trier e a segunda teoria pulsional de Freud.
O FILME
Em Melancolia, nos é apresentado uma versão do fim do mundo. Antecedidas por memoráveis imagens de abertura gravadas em câmara lenta e que se sucedem ao som do prelúdio de Tristão e Isolda de Wagner, a história se divide em dois episódios, intitulados com o nome de duas irmãs, Justine e Claire. A imagem das mãos de Justine se “liquefazendo”, ao meu ver, já é o primeiro símbolo da tendência ao inorgânico. O que une os dois episódios é a crescente ameaça trazida pelo imenso planeta Melancolia, que parece estar em rota de colisão com a Terra, o que provocaria uma destruição definitiva, o retorno ao inanimado, ao nada, ao silêncio absoluto.
No primeiro, seguimos o casamento de Justine, uma publicitária em luta desesperada contra a depressão, cuja festa foi promovida pela convencional irmã Claire e seu marido milionário. Que tudo vai dar mal é anunciado pela visão da imensa limusine entalada nas curvas da estreita e sinuosa estrada, impedida de levar os noivos ao castelo onde os convidados os aguardam. O casamento, ritual amoroso de perpetuação da espécie e celebração da vida, é destruído na própria festa. Os pais da noiva se agridem publicamente e ridicularizam a cerimônia, a própria Justine se comporta de forma inadequada e imprevisível.
A segunda parte se dá tempos depois do casamento. Justine, em forte depressão, é acolhida pela irmã no castelo onde se realizara o casamento e acompanha, inicialmente de forma distanciada e indiferente, a angústia de Claire frente à ameaça cósmica trazida pela aproximação do planeta Melancolia. Justine e o cunhado não levam a sério o medo de Claire e tentam acalmá-la, convencendo-a que não ocorrerá a temida colisão do planeta com a Terra. Os papéis agora estão invertidos. Se, no primeiro episódio, Claire cuidava de Justine, agora é Justine que, recuperada de seu quadro melancólico, passa a cuidar de Claire.
Melancolia é um filme onde o pessimismo desiludido do diretor se expressa de forma mais radical. Ao contrário dos outros filmes, nos quais a destrutividade e a loucura atingem apenas alguns personagens, ínfima fração da humanidade, em Melancolia é a própria raça humana que está em vias de extinção.
A melancolia é a forma mais profunda de depressão. É o quadro clínico onde a pulsão de morte se manifesta de forma mais explícita. Nela, dizia Freud, o superego é uma “pura cultura da pulsão de morte”, pois se apresenta com um rigor enlouquecido e sadicamente ataca o ego, que, debilitado, não consegue reagir e se submete de forma masoquista ao ataque. O resultado é o abandono da alegria de viver, o desejo de autodestruição como disfarce do ódio e da violência dirigidos contra tudo e todos. Tânatos induz à morte individual (suicídio ou homicídio [que é representado no marido de Claire que ao se desesperar, tem uma passagem direta ao ato e comete suicídio]) ou em massa (guerras, genocídios, “limpezas étnicas”, fanatismos político-religiosos). Em casos menos extremados, provoca desastrosas escolhas de vida, com consequências danosas para aquele que as fez e para todos que com ele envolvidos, que de alguma forma transparece nas escolhas e atitudes de Justine.
Assim, ao colocar o planeta Melancolia como ameaça à preservação da vida na Terra, pode-se dizer que o filme está psicanaliticamente correto. O que coloca a vida em perigo é a pulsão de morte, Tânatos, a destrutividade que habita cada um de nós. Ela precisa ser mesclada com Eros, com a libido, com o amor, o que a neutraliza e impede de produzir seus efeitos anuladores da vida.
É interessante que o autor represente o poder letal da melancolia, ou seja, da pulsão de morte, como algo que provém dos confins do espaço sideral, uma ameaça cósmica externa, quando, pelo contrário, ele está muito próximo, no íntimo de cada um.
Ao final, já com o eminente impacto e fim, Justine usando da fantasia e do afeto que lhe resta aplaca o medo da morte de seu sobrinho construindo a “caverna mágica”. Podemos pensar como o retorno simbolico do útero materno? Mas o que parece claro para mim, é o retorno ao inamado logo após o impacto, pois o filme se encerra com a tela toda preta e em silêncio absoluto.
EVOLUÇÃO DA TEORIA PULSIONAL
Foi na primeira edição dos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) que encontramos pela primeira vez a palavra pulsão na obra freudiana, a respeito de uma teoria sobre a sexualidade humana. O que está em questão neste texto é essencialmente a pulsão sexual. A pulsão é definida como representante psíquico de estimulações constantes de fonte endógena, se tratando, portanto, de um conceito limítrofe entre o psíquico e o somático. Nesse momento Freud monta sua primeira dualidade: Pulsões sexuais versus pulsão de autoconservação.
Neste mesmo texto, Freud introduz a noção de pulsões parciais ligadas a zonas erógenas determinadas, cuja soma constitui a base da sexualidade infantil. Embora esteja ligada à sexualidade infantil, a puberdade não significa um abandono delas. Essas pulsões parciais que funcionam, na infância, através de atividades parcelares, no adulto, funcionam sob a forma dos prazeres preliminares e nas perversões. Embora na puberdade, a sexualidade encontre certa organização, as pulsões parciais ainda se encontram ativas, mesmo que sob a primazia dos genitais ou sob o destino do recalque.
Outro ponto importante deste texto foi à plasticidade conferida à pulsão, de forma que seu objeto e sua finalidade são o que ela tem de mais variável, apesar de não poder prescindir deles.
O texto Sobre o narcisismo: uma introdução (1914) veio subverter o primeiro dualismo pulsional, sem apresentar um segundo, com a ideia de que o eu é um objeto a ser investido pela pulsão sexual. Em uma nova redistribuição da pulsão sexual encontramos a libido do eu, que é a pulsão sexual investida no eu, e a libido objetal que é a pulsão sexual investida em no mundo externo.
O primeiro modo de satisfação da libido seria o autoerotismo conceituado como o prazer que o órgão retira de si mesmo; essas pulsões, de forma independente, procuram cada qual por si, sua satisfação no próprio corpo. Nesse período, ainda não existe uma unidade comparável ao eu, nem uma real diferenciação do mundo.
Freud destaca a posição dos pais na constituição do narcisismo primário dos filhos. Fala que o amor dos pais aos filhos é o narcisismo dos pais renascido e transformado em amor objetal. O Narcisismo primário representaria de certa forma, uma espécie de onipotência que se cria no encontro entre o narcisismo nascente do bebê e o narcisismo renascente dos pais.
No caso do narcisismo secundário há dois momentos: primeiro o investimento nos objetos; e depois esse investimento retorna para o seu (ego). Quando o bebê já é capaz de diferenciar seu próprio corpo do mundo externo, ele identifica suas necessidades e quem ou o que as satisfaz; o sujeito concentra em um objeto suas pulsões sexuais parciais, há um investimento objetal, que em geral se dirige para a mãe e o seio como objeto parcial.
Em Pulsões e suas vicissitudes (1915), Freud resgata o conceito de pulsão relacionado à diferenciação entre estímulos externos e estímulos internos, presente no Projeto para uma psicologia científica (1895). Quando estímulos externos se apresentam ao aparelho neuronal, este utiliza mecanismos de fuga no sentido de se livrar da estimulação. No caso dos estímulos internos, a fuga não é possível. O cessamento de sua estimulação só pode ser obtido de outra forma. É necessária uma ação específica que promova uma alteração apropriada da fonte interna de estimulação. Mais precisamente, os estímulos internos exigem do sistema nervoso muito mais do que os estímulos externos, e só tem sua fonte interna de estimulação satisfeita através de atividades complexas e interligadas, através das quais o mundo externo é modificado no sentido de promover a satisfação. Ainda neste texto, Freud reintroduz os elementos acerca do funcionamento da pulsão que haviam sido indicados nos três ensaios: fonte (processo somático que ocorre em um órgão ou parte do corpo, mas em termos de via mental só chegamos a conhecê-lo através das finalidades pulsionais); finalidade (satisfação e só pode ser alcançada através da eliminação do estado de estimulação, conseguida por um caminho direto ou através da combinação de várias finalidades mais próximas ou intermediárias que se combinam e se intercambiam umas com as outras, no sentido de chegar à finalidade última); e objeto (através de um objeto que a pulsão consegue alcançar sua finalidade). Ele ainda acrescenta mais um elemento, a pressão se caracterizando por ser uma pressão constante e é a própria essência da pulsão.
Ela é seu fator motor, sua quantidade de força que se configura em uma exigência de trabalho ao psiquismo. Para Freud toda pulsão é ativa e só pode falar em passividade pulsional quando referido a finalidade.
Em sua primeira concepção do aparelho psíquico, Freud concebeu, do ponto de vista econômico, como governado pelo princípio do prazer, que por sua vez decorre do princípio de constância. O aparelho psíquico trabalharia no sentido de manter a quantidade de excitação nele presente tão baixa quanto possível, segundo este princípio, de maneira que uma diminuição de excitação corresponderia a uma sensação de prazer e um aumento, ao desprazer (Freud, 1920, pág 17-19). Na experiência clínica, no entanto, essa visão revelou-se insatisfatória diante da descoberta de fenômenos como a ambivalência, o masoquismo, e especialmente a compulsão à repetição, na qual o sujeito repete uma situação traumática, seja em sonhos, seja através de uma atuação ou de outras formas. A compulsão a repetição apresentou-se como um paradoxo, uma vez que, se a tendência do aparelho psíquico era o alívio das tensões no sentido de se evitar o desprazer, o acontecimento traumático deveria ser esquecido e não repetido (Freud, 1920, pg. 23-29, 31-37).
Em vista disso Freud postula a existência de uma tendência inerente ao organismo vivo a reconduzi-lo à um estado anterior de coisas, ou melhor, fazê-lo retornar ao estado original das coisas que é o estado inanimado, uma vez que a vida compareceu como um elemento perturbador externo à esse estado inicial (Freud 1920, pg. 53-54). Esse impulso será denominado Pulsão de Morte e através dele Freud irá elaborar sua última teoria das pulsões, ao mesmo tempo em que introduz a segunda tópica do aparelho psíquico. Nesta nova teoria, a oposição não mais se dará entre pulsões sexuais, a serviço do princípio do prazer e pulsões do ego, de caráter autoconservativo, mas entre Pulsão de Morte e Pulsão de Vida (Freud, 1920, pg. 73). Estas últimas se contraporiam às de Morte, fazendo com que as unidades vitais mantenham-se em funcionamento e constituam unidades cada vez mais complexas e evoluídas, de modo a criar caminhos cada vez mais afastados, ou desviados do objetivo final da Pulsão de Morte, que é o retorno ao inorgânico. A Pulsão de Vida impeliria o organismo em direção às formas cada vez mais diferenciadas, tendo um caráter unificador e, portanto de natureza sexual. A Pulsão de Morte, pelo contrário, impele o organismo no sentido de uma descarga imediata.
Um pouco mais sobre Além do principio do prazer
A partir da brincadeira de seu neto, dos sonhos de neurose traumática e das transferências na análise, onde os pacientes repetiam na transferência os acontecimentos traumáticos da infância, Freud passa a questionar o papel desempenhado pelo principio do prazer. Nessas situações, nota a presença de uma compulsão a repetição de cenas que não representam prazer e que indicam que o principio do prazer não rege todo o funcionamento mental. Observando seu neto, percebe que este brinca com um carretel, fazendo com que apareça e desapareça.
Ele analisa esse jogo como uma simbolização da falta materna, em que a criança encenava a alternância da presença e ausência da mãe. Uma das coisas que chamou a atenção de Freud, diante do jogo, foi o ato da partida do objeto ser encenado com muito mais frequência que o episódio do retorno, que seria supostamente, mais prazeroso.
Percebe também que o jogo mudaria a criança de posição: do lugar passivo para o ativo.
Já quando analisa os sonhos repetitivos dos pacientes com neuroses traumáticas e de guerras, Freud passa a questionar sua teoria sobre os sonhos, pela qual afirmava que todos os sonhos seriam uma realização de um desejo. Ele analisa a função desses sonhos que repetem cenas traumáticas e dolorosas. Para o autor, esses sonhos teriam a função de desenvolver a angústia retroativamente, onde esta faltou.
Ao falar das pulsões, afirma que estas sempre buscam a satisfação, no entanto nunca é totalmente alcançada, a tensão persiste, pressionando constantemente em busca de uma realização impossível.
A partir disso, Freud amplia sua noção de pulsão ao constatar que a compulsão a repetição seria uma característica intrínseca ao movimento de toda pulsão, consequentemente a tendência do restabelecimento de um estado anterior da vida, ao inorgânico.
Freud então verifica a existência daquilo que chamou pulsão de morte. Surge então uma nova concepção de pulsão e com ela uma nova teoria. As pulsões de vida e de morte (não mais do Ego x Sexuais) passam o dirigir o funcionamento psíquico. As pulsões de morte se opõem as pulsões de vida. A partir disso as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação são unificadas sob a denominação de “pulsões de vida” e contrapostas à pulsão de morte, isto é, a tendência inerente a todo ser vivo de retornar ao estado anorgânico com a eliminação completa das tensões. (Garcia-Roza, 2008, pg. 126). Para finalizar, Freud relata que a vida tem uma natureza conservadora. “Não conhece o fato de tudo o que vive morrer por razões internas, tornar-se mais uma vez inorgânico, seremos então compelidos a dizer que o objetivo de toda vida é a morte”.
Adendo
Gostaria também de fazer mais uma observação sobre Pulsão de Vida e de Morte. Resolvi colocá-lo posteriormente, pois se trata apenas de uma breve reflexão.
Pensando nas aulas e em alguns livros que li sobre o assunto, acredito ter entendido bem o porquê as pulsões de vida e morte podem ser consideradas uma só e o porquê também podem ser consideradas opostas. Explico: A pulsão de vida traz em si as pulsões sexuais e de autoconservação. Enquanto autoconservação, não necessariamente ela se contrapõe a pulsão de morte, pois protege o ser de uma morte não-natural, ajudando a seguir para o seu rumo inevitável, a morte natural, ao estado inorgânico. Dessa forma, pode-se dizer que caminham para o mesmo sentido, ou seja, a morte natural. Já a pulsão sexual, também presente na pulsão de vida, de alguma forma se opõe, não a morte natural, mas ao aniquilamento. Em sua função principal que é a de procriação, perpetua a espécie, ou seja, torna não aquele ser, mas a espécie, a vida, imortal. Por isso, caminha na contramão da pulsão de morte, ao aniquilamento, ao nada, a extinção. Por isso, a meu ver é possível pensar a segunda teoria pulsional tanto de uma forma monista (possivelmente fazendo Freud dar solavancos no túmulo e Jung um sorrisinho de canto de boca), como para alegria do pai da psicanálise a dualidade que tanto lhe é caro.
Freud, S. Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexulidade – vol. VII (1905). Obras Completas de Sigmund Freud – Imago, Rio de Janeiro, 1996.
Freud, S. Sobre o Narcisismo: Uma Introdução – vol. XIV (1914). Obras Completas de Sigmund Freud – Imago, Rio de Janeiro, 1996.
Freud, S. Os Instintos e Suas Vicissitudes – vol. XIV (1915). Obras Completas de Sigmund Freud – Imago, Rio de Janeiro, 1996.
Freud, S. Além do Princípio do Prazer – vol. XVIII (1920). Obras Completas de Sigmund Freud – Imago, Rio de Janeiro, 1996.
GARCIA-ROZA, L.A. Freud e o Inconsciente – Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2008.
GARCIA-ROZA, L.A. Introdução a Metapsicologia Freudiana – 3 – Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1995.
LAPLANCHE, J; PONTALIS, J-B. Vocabulário de Psicanálise. – Martins Fontes, São Paulo, 1982.
LIMA, A.A.S. Acontecimento e Linguagem. Clínica Psicanalítica – São Paulo, Casa do Psicólogo, 2011.
QUINODOZ, J-M. Ler Freud – Guia de Leitura da Obra de S. Freud. – Artmed, Porto Alegre, 2007.