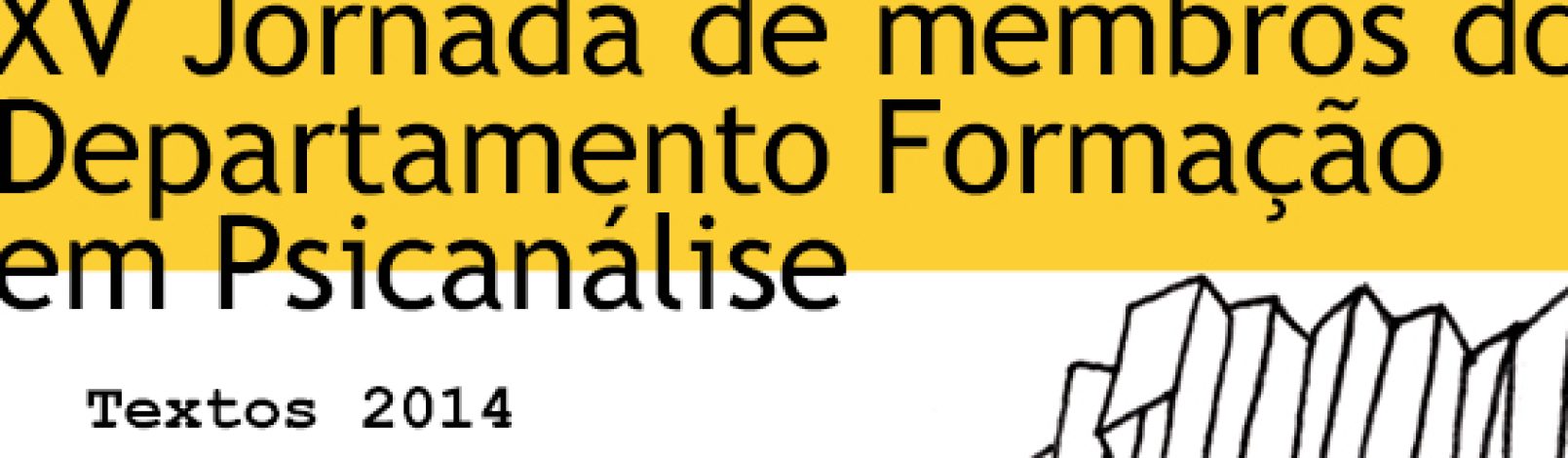LUTO, MELANCOLIA, E IDENTIFICAÇÃO: EM FREUD E KLEIN
Dedico este trabalho aos professores
Antonio Geraldo de Abreu Filho
Berenice Neri Blanes
Agradeço a paciência e a persistência dos professores
Maria Beatriz Romano de Godoy
Cecília Noemi Morelli Ferreira de Camargo
Suzana Alves Viana
Luto e Melancolia é o texto de Freud que mais impacto me causou, ao lado de, e fundamentado na Interpretação dos Sonhos, nos Três Ensaios sobre a Sexualidade e, em Além do Princípio do Prazer. O estudo e o contato explícito com a linguagem do inconsciente, com a sexualidade infantil (explorada ainda mais profundamente em Melanie Klein) e, com a pulsão de morte, fazem de Luto e Melancolia um testemunho vigoroso da fragilidade humana.
Talvez, seguindo o mesmo plural dos “narcisismos”, devêssemos também dizer “lutos”, pois a vida é a contínua superação de lutos vários: desde a perda do suposto conforto e segurança do útero materno, do seio que amamenta, da onipotência de sua “majestade o bebê”, dos primeiros objetos de amor surgidos no Édipo arcaico e interditados no Édipo clássico, até as pequenas e profundas perdas do cotidiano, uma sucessão de lutos nos é imposta pela aventura do viver.
Freud nos diz: “O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante. (SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, pág. 249). Daí depreendo ser o luto uma relação objetal, onde a escolha de objeto é do tipo não narcísica e isenta de ambivalência (até o limite em que estas possibilidades possam ser reais) e, onde a perda real do objeto é seguida, inicialmente, por um sobre-investimento no objeto perdido, depois, por um desinvestimento e, finalmente por re-investimento em um outro ou outros objetos (o trabalho do luto). Teorizo, por minha própria conta e risco (nada há de novo debaixo dos céus, assim, o pouco saber avaliza a minha presunção), que a primeira relação objetal se dá com o útero materno e que o nascimento é o protótipo dos lutos, instalando pela via da perda a angústia primeira, de aniquilamento, vinculada à pulsão de morte. O desejo não sabido por um retorno à fusão-união “sem tensões” da vida antes da vida (intra-uterina), revela também a instauração arcaica do desejo, e portanto do conflito: o bebê, mesmo ainda não nascido, já não é mais apenas ID, é também EU, um EU ainda incipiente e frágil.
Nesse sentido, temos no mesmo texto, “O teste da realidade revelou que o objeto amado não existe mais, passando a exigir que toda a libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto.” (SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, pág. 250) e, Freud também nos diz que há uma intensa oposição à perda, que pode promover um desvio da realidade, e um apego ao objeto via uma psicose alucinatória, esta, carregada de desejo; talvez aqui a formação das primeiras fantasias, ou phantasias (SUSAN ISAACS, NATUREZA E FUNÇÃO DA FANTASIA, primeira reunião científica: 27 de janeiro de 1943, SOCIEDADE BRITÂNICA DE PSICANÁLISE) como querem alguns. Conforme nos diz Melanie Klein: “Ferenczi acredita que a identificação, precursora do simbolismo, surge da tentativa do bebê de reencontrar em todo objeto os seus próprios órgãos e seu funcionamento.”, e mais adiante, “… que o simbolismo é o fundamento de toda sublimação e de todo talento, pois é através da igualdade simbólica que as coisas, as atividades e os interesses se tornam o conteúdo de fantasias libidinais.” (MELANIE KLEIN, AMOR, CULPA E REPARAÇÃO E OUTROS TRABALHOS, IMAGO EDITORA LTDA., pág. 252, 1996). Aqui o Prof. Miguelez pergunta, referindo-se às crenças de Ferenczi, se não se trata de uma imagem centrada em si mesmo do mundo, “um narcisismo primário, originário” (acréscimos meus).
Na relação primeva de objeto, o bebê “é” o útero materno e o nascimento deste modo torna-se a ruptura desta relação objetal. Neste primeiro luto, temos um mundo já pobre, de vez que se refere ao primeiro contato deste com o bebê; mais tarde, nos lutos que virão, o mundo se empobrecerá diante das perdas. O útero introjetado adentra o self como objeto parcial: útero-bom e útero-mau e se a força do primeiro for maior, então o seio bom terá uma melhor possibilidade de se instalar mais firmemente no ego primitivo. Por outro lado, se o útero-mau for, por assim dizer, o mais forte, então um seio mau terá uma possibilidade maior de fazer-se predominante no ego primitivo, enfraquecendo-o.
No útero, o bebê se identifica (identificação primária) com o interior da mãe, sua temperatura, seus ruídos viscerais indiscerníveis, seus movimentos, seu toque indireto, com o líquido amniótico deglutido, e com, quem sabe, o toque direto de inconscientes. Assim configura-se sua vida mental primitiva, feita de fantasias (o que antecede ao pensamento) corporais, somáticas. O objeto escolhido/imposto é “inseparável” (o germe da onipotência e do narcisismo?) daquele com o qual se identifica, e com ele se faz um e um mesmo. Laplanche e Pontalis definem identificação primária como: “Modo primitivo de constituição do indivíduo segundo o modelo do outro, que não é secundário a uma relação previamente estabelecida em que o objeto estaria inicialmente situado como independente. A identificação primária é estreitamente correlativa da chamada relação de incorporação oral.” (J. LAPLANCHE & J.-B. PONTALIS, VOCABULÁRIO DE PSICANÁLISE, LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA., 9a ED. BRASILEIRA, pág. 301, 1986).
Mais tarde, o bebê, ao perceber-se separado e singular, vai identificar-se de modo secundário, com um outro. Nesta separação, além do luto, haverá espaço para a melancolia, onde à perda, soma-se a idealização do objeto perdido, “perdido enquanto objeto de amor”, “perda objetal retirada da consciência” (SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, pág. 251). O objeto perdido, fruto de uma escolha narcísica, é incorporado ao EU por identificação (identificação secundária) através da retirada da libido livre para esse mesmo EU: “Assim a sombra do objeto caiu sobre o ego, e este pôde, daí por diante, ser julgado por um agente especial, como se fosse um objeto, o objeto abandonado. Dessa forma, uma perda objetal se transformou numa perda do ego, e o conflito entre o ego e a pessoa amada, numa separação entre a atividade crítica do ego e o ego enquanto alterado pela identificação.” (SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, pág. 255). O movimento que se observa é o da regressão, que conforme nos informa Laplanche e Pontalis, é definido como: “Num processo psíquico que contenha um sentido de percurso ou de desenvolvimento, designa-se por regressão um retorno em sentido inverso desde um ponto já atingido até um ponto situado antes desse.” (J. LAPLANCHE & J.-B. PONTALIS, VOCABULÁRIO DA PSICANÁLISE, LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA, 9a ED. BRASILEIRA, pág. 567, 1986). Pode-se ainda, conforme os mesmos autores, analisar a regressão como se dando num sentido tópico, isto é, ao longo de uma sucessão de sistemas psíquicos; num sentido temporal, como no retorno a etapas ultrapassadas do desenvolvimento libidinal, das relações de objeto, das identificações, etc.; e, também num sentido formal, como passagem a modos de expressão e de comportamento de nível inferior do ponto de vista da complexidade, da estruturação e da diferenciação. O melancólico, para além de compartilhar com o enlutado de um “sentimento de desânimo profundamente penoso, de uma cessação de interesse pelo mundo externo, da perda da capacidade de amar, da inibição de toda e qualquer atividade, exibe também uma redução “desinibida” dos sentimentos de auto-estima, revelados pela auto-recriminação e auto-envilecimento, que culminam numa expectativa delirante de punição.” (modificado de SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, pág, 250). Há aqui um reforço de ambivalência já existente: “Se o amor pelo objeto – um amor que não pode ser renunciado, embora o objeto o seja – se refugiar na identificação narcisista, então o ódio entra em ação nesse objeto substitutivo, dele abusando, degradando-o, fazendo-o sofrer e tirando satisfação sádica de seu sofrimento.” (SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, págs. 256-257).
Teorizo também (seguindo ignorante e presunçoso) uma origem primitiva para a ambivalência: amor e ódio amalgamados e inseparados, diante da perda primeira, e me vem à cabeça os versos de Milton: “The world was all before them, where to choose/ Their place of rest, and Providence their guide./ They, hand in hand, with wandering steps and slow,/ Through Eden took their solitary way.” (JOHN MILTON, PARADISE LOST: BOOK XII, IN THE NORTON ANTHOLOGY OF ENGLISH LITERATURE, 3TH EDITION, WW NORTON &CO, pág. 796, 1975). Nesse sentido, um útero-bom introjetado facilitaria uma firme instalação do seio bom no ego e possibilitaria o trabalho do luto primevo e dos lutos subsequentes, enquanto que a predominância de um útero-mau favoreceria o fortalecimento do seio mau, e talvez isso poderia vir a tornar-se a semente da melancolia.
Em Inveja e Gratidão, Melanie Klein nos diz: “O desenvolvimento do superego pode ser reportado à introjeção nos estágios mais iniciais da infância; os objetos primários internalizados formam a base de complexos processos de identificação; …” e, ainda “ As relações entre essas figuras internalizadas, e entre elas e o ego, tendem a ser vivenciadas, quando a ansiedade persecutória é dominante, como essencialmente hostis e perigosas; são sentidas como sendo amorosas e boas quando o bebê é gratificado e prevalecem sentimentos positivos.”. Ainda no mesmo artigo, “Desde o começo, o amor e o ódio são projetados sobre ela (a mãe) e, simultaneamente, ela é internalizada com estas duas emoções primordiais contrastantes, o que fundamenta o sentimento do bebê de que existe uma mãe (seio) boa e outra má.” (MELANIE KLEIN, INVEJA E GRATIDÃO E OUTROS TRABALHOS, IMAGO EDITORA, págs. 170 – 171, 1991)
Há uma segunda forma de identificação, a identificação histérica, que conforme Roudinesco e Plon, “corresponde a deduções inconscientes, é uma ‘apropriação’ causada por uma etiologia idêntica; exprime um ‘como se’ e está relacionada a uma comunhão que persiste no inconsciente.” (E. ROUDINESCO & M. PLON, DICIONÁRIO DE PSICANÁLISE, JORGE ZAHAR EDITOR LTDA., pág. 364, 1998); e também na qual “a identificação apareceu no lugar da escolha de objeto, e que a escolha de objeto regridiu para a identificação.” (SIGMUND FREUD, PSICOLOGIA DE GRUPO E ANÁLISE DO EGO, SE, XVIII, pág. 116). Freud nos dá o exemplo de Dora, que ao identificar-se com seu pai, toma emprestado seu sintoma de tosse: o ‘ter’ regride para o ‘ser’, de modo deslocado e parcial.
Há ainda uma terceira forma de identificação, na qual não há investimento sexual, revelando-se no modo como ligam-se entre si os membros de uma coletividade ou grupo: vínculo entre cada indivíduo e seu líder, constituído como ‘ideal do eu’ por todos e por cada participante do grupo. Conforme Freud, esse ideal do ego é uma instância do ego, que do resto dele se isola e que entra em conflito com ele, e que “… a título de funções, atribuímos-lhe a auto-observação, a consciência moral, a censura dos sonhos e a principal influência na repressão.” (SIGMUND FREUD, PSICOLOGIA DE GRUPO E ANÁLISE DO EGO, SE, XVIII, pág. 119).
Deste modo, conforme o bebê avança para a meninice e para o mundo adulto, movido pela angústia, há um fortalecimento do EU, que submetido às regras da realidade (o mundo externo, a interdição do Édipo, os múltiplos lutos e, a possibilidade de identificar-se e de “escolher”) erige um ideal onde pode encontrar satisfação, mesmo em face da insatisfação com o próprio ego.
Teorizo finalmente, abusando já da citada ignorância que avaliza a presunção, que a identificação é o modo de relação predominante da fase esquizo-paranóide do desenvolvimento do bebê, para o qual regridem aqueles que se encontram perseguidos pela diferença e pelo diferente, e que buscam nos iguais e naquele que é o mais igual entre os iguais, um ideal para satisfazer-se. Deste modo, no grupo ou na massa, o sujeito sofre de rebaixamento de suas qualidades mentais, abdica de pensar e, se identifica com o líder. Hanna Arendt nos oferece exemplo marcante do que chamou de a “banalidade do mal”, ao cobrir o julgamento de Adolf Eichmann: imaginou encontrar um monstro e o que viu foi um medíocre funcionário publico que abdicou de pensar (HANNAH ARENDT, EICHMAN IN JERUSALEM : A REPORT ON THE BANALITY OF EVIL, NEW YORK, THE VIKING PRESS, 1963). Hoje muitos abdicam do ato de pensar, seguindo o caminho mais fácil, em detrimento do caminho correto; identificam-se e também abdicam de sua singularidade, dissolvendo-se bovinamente nos coros dos que se sentem fracos e oprimidos, sem o ser e, que por esta via fazem-se sentir fortes e resolutos, também sem o ser.
BIBLIOGRAFIA
1. SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, pág. 249
2. SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, pág. 250
3. SUSAN ISAACS, NATUREZA E FUNÇÃO DA FANTASIA, primeira reunião científica: 27 de janeiro de 1943, SOCIEDADE BRITÂNICA DE PSICANÁLISE
4. MELANIE KLEIN, AMOR, CULPA E REPARAÇÃO E OUTROS TRABALHOS, IMAGO EDITORA LTDA., pág. 252, 1996
5. J. LAPLANCHE & J.-B. PONTALIS, VOCABULÁRIO DE PSICANÁLISE, LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA., 9a ED. BRASILEIRA, pág. 301, 1986
6. SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, pág. 251
7. SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, pág. 255
8. J. LAPLANCHE & J.-B. PONTALIS, VOCABULÁRIO DA PSICANÁLISE, LIVRARIA MARTINS FONTES EDITORA LTDA, 9a ED. BRASILEIRA, pág. 567, 1986
9. SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, pág, 250
10. SIGMUND FREUD, LUTO E MELANCOLIA, SE, XIV, págs. 256-257
11. JOHN MILTON, PARADISE LOST: BOOK XII, IN THE NORTON ANTHOLOGY OF ENGLISH LITERATURE, 3TH EDITION, WW NORTON &CO, pág. 796, 1975
12. MELANIE KLEIN, INVEJA E GRATIDÃO E OUTROS TRABALHOS, IMAGO EDITORA, págs. 170 – 171, 1991
13. E. ROUDINESCO & M. PLON, DICIONÁRIO DE PSICANÁLISE, JORGE ZAHAR EDITOR LTDA., pág. 364, 1998
14. SIGMUND FREUD, PSICOLOGIA DE GRUPO E ANÁLISE DO EGO, SE, XVIII, pág. 116
15. SIGMUND FREUD, PSICOLOGIA DE GRUPO E ANÁLISE DO EGO, SE, XVIII, pág. 119
16. HANNAH ARENDT, EICHMAN IN JERUSALEM : A REPORT ON THE BANALITY OF EVIL, NEW YORK, THE VIKING PRESS, 1963.